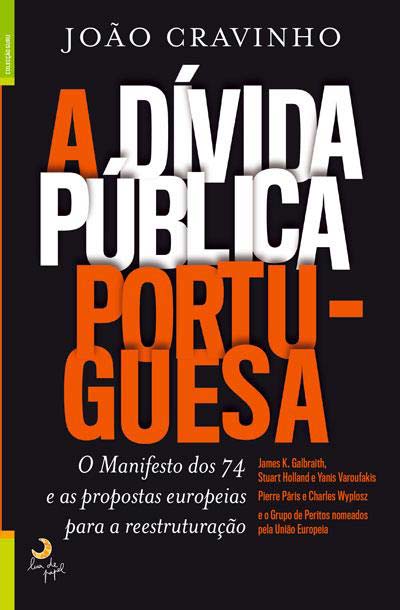Artigo de António Carlos dos Santos.
A Dívida Pública Portuguesa. O Manifesto dos 74 e as propostas europeias para a reestruturação
João Cravinho, Lua de Papel, 2014
“Mas haverá União Económica e Monetária que possa singrar indefinidamente, imune a tantas dinâmicas de fragmentação e desunião?” (João Cravinho)
“Vocês não podem continuar a financiar [as emissões de dívida pública portuguesa]. O risco é afundarem-se os bancos, a parte sã, e a República, que é a parte que criou o problema” (Carlos Costa)
Eis um livro de leitura imprescindível a exigir urgente debate político. A sordidez do caso BES e as suas previsíveis repercussões na vida económica, social, financeira e política portuguesa tornam esse debate inadiável. A importância do tema é, aliás, reforçada pelo facto de, quase em simultâneo, ter sido divulgado na internet (com apresentação pública no IDEFF) um outro estudo sobre o tema, o de Ricardo Cabral, Francisco Louçã, Eugénia Pires e Pedro Nuno Santos, com o título Um programa sustentável para a reestruturação da dívida portuguesa, também ele a merecer discussão aberta e sem tabus.
Como é sabido, João Cravinho foi um dos principais mentores do Manifesto dos 74 (publicado como anexo ao livro agora editado) onde um grupo progressivamente alargado de cidadãos de várias tendências políticas e com percursos cívicos e profissionais muito distintos defendia a necessidade de se preparar a reestruturação da dívida para que o país pudesse crescer sustentadamente (1). O Manifesto foi recebido com grande hostilidade por parte do poder político e da imprensa apaniguada sempre pronta a tecer loas à bondade, inevitabilidade e eficácia do caminho austeritário trilhado. Alguns criticaram a sua saída extemporânea e inoportuna, forma fácil de se esquivarem ao confronto democrático. Outros procuraram mesmo deturpá-lo, de forma acintosa, fazendo-o dizer aquilo que ele não diz: reestruturar seria pedir um perdão da dívida.
Neste livro, Cravinho, num desafiante ensaio de cerca de oitenta páginas (“É imperioso reestruturar a dívida: contributos para um debate”), desenvolve, em linguagem acessível a um público não especialista, o seu próprio pensamento sobre o tema. Para além disso, colige no livro três importantes contributos para a discussão pública: o de James K. Galbraith, Stuart Holland e Yanis Varoufakis, intitulado Proposta modesta para resolver a crise do euro, o de Pierre Paris e Charles Wyplosz, conhecido por relatório PADRE – Reestruturação da dívida politicamente aceitável na zona euro e uma parte substancial de um relatório dum grupo de peritos da União Europeia (entre os quais, Vítor Bento) relativo à criação de um Fundo para a Amortização da Dívida e Eurobills.
Nesta recensão, apenas se enunciam as linhas gerais do ensaio de João Cravinho, procurando-se mostrar o porquê do autor ter prestado um relevante serviço público ao país.
O ponto de partida (implícito) é o da continuidade do euro e da aposta na permanência de Portugal na área do euro, questões que, sendo controversas entre nós e em diversos Estados-membros da União Europeia, têm sido, em regra, discutidas em termos mais emocionais que racionais. Na inexistência de referendo sobre o tema, na ausência de séria discussão e de qualquer consulta sobre o muito dificilmente exequível Tratado Orçamental, uma construção jurídica paralela (se não à margem dos Tratados da União Europeia), existem apenas alguns indícios indiretos, ainda que relevantes (posições dos partidos dominantes, alguns inquéritos), que apontam que, mau grado o manifesto desgaste do projeto europeu e progressivo desapego de muitos portugueses em relação ao euro, a maioria será ainda favorável à moeda única e à permanência de Portugal na área do euro.
Esta permanência, porém, implica exigências jurídicas e de consolidação orçamental inerentes a uma arquitetura institucional decorrente dos Tratados e de um complexo direito derivado que, se necessário fosse, a crise veio revelar, como de há muito, alguns têm vindo a assinalar, ser inadequada, desde logo por ser vulnerável à eclosão de choques assimétricos. A isto acresce a insensata política de austeridade que põe em causa a sustentabilidade de um projeto europeu decente, transformando, com cumplicidades internas notórias, muitos dos Estados membros em Estados satélites de um projeto de dominação da direita germânica.
Neste contexto, a manutenção de Portugal no euro, cumprindo os critérios do Pacto de Estabilidade e Crescimento e do Tratado Orçamental e, simultaneamente, satisfazendo, no essencial, os compromissos derivados da dívida pública, sem pôr em causa o desenvolvimento económico e sem criar maior degradação do clima social e político (condições necessárias, mas não suficientes, para a satisfação daqueles compromissos) é um hercúleo desafio que espera o “pós-passismo”. Neste estreito “buraco da agulha”, a busca de uma saída da crise com permanência no euro tem de basear-se numa estratégia política e social suficientemente abrangente, na denúncia que a prossecução das políticas de austeridade não é nem solução nem alternativa para o futuro e, consequentemente, na procura de soluções económicas, jurídicas, financeiras, sociais que, possam ou não exigir ajustamentos institucionais, se mostrem operacionais e aceitáveis aos olhos dos portugueses e da comunidade internacional. Este o contexto que torna a leitura do livro imprescindível.
Cravinho assume um ponto de partida hoje praticamente inquestionável para quem não assuma a postura da avestruz. Assente a poeira ideológica (a mistificação, o engodo) com que os austeritários nos tentaram fazer crer que a crise era sobretudo uma crise das dívidas públicas e da “ganância” e “impaciência” dos cidadãos que tudo faziam para viverem acima das suas possibilidades, hoje é claro que a “brutal imposição da austeridade a qualquer custo insere-se, em primeiro lugar, e acima de tudo, na finalidade de salvar os bancos e o sistema bancário” (p. 15). Ou melhor, citando Mark Blyth, “a austeridade não é apenas o preço da salvação dos bancos. É o preço que os bancos querem que alguém pague.” O erário público e não os gestores, acionistas e credores arcaram assim com preço da recapitalização e dos auxílios públicos à banca. Entre nós, a investigação jornalística de Paulo Pena (Jogos de Poder, A Esfera dos Livros, 2014) demonstra bem como os bancos portugueses criaram a dívida que os nossos contribuintes, uns mais que outros, têm vindo a pagar com o “colossal” aumento de impostos e de tributos parafiscais de que foram alvo. O caso BES só vem dolorosamente confirmar este facto.
Mas a estratégia do capital financeiro e da política neoliberal não se quedou por aqui. Com a preciosa ajuda dos eurocratas, havia que aproveitar a oportunidade dada pela crise (rebatizada como crise das dívidas soberanas) não só para culpar os países do Sul (a Schuld dos PIIGS), salvaguardando os interesses dos países do Norte, como sobretudo para pôr em causa nos países do Sul o contrato social ou o compromisso histórico em que assenta o Estado Social, “sem a maçada de tentar ganhar mandato democrático” específico para tal programa político (p. 19). Assim, a atual estratégia europeia tem por consequência fatal “subordinar a democracia nos Estados-Membros aos ultimatos ideológicos de instituições supranacionais” (p. 27). E – acrescentaria – a ultimatos descarados dos nossos banqueiros “anarquistas”.
Cravinho empenha-se a seguir em demonstrar que, apesar de a dívida pública portuguesa ter algumas caraterísticas específicas (uma dívida que sempre exigiria estratégias de rigor orçamental, não confundíveis com políticas de austeridade, mas cuja explosão foi muito mais acentuada no período de 2007 a 2013 e particularmente agravada pelas políticas impostas sob a égide da troika) e de Portugal ter problemas importantes que não foram resolvidos (nomeadamente, problemas de desperdícios, corrupção, gastos excessivos, captura do Estado pela “partidarite” e pelos grandes interesses), o acréscimo do rácio da dívida pública (em grande parte justificável pelo baixo nível de desenvolvimento anterior ao 25 de Abril) foi, no período de 1980 a 2007, de 73%, inferior pois ao da Alemanha (81%) e da França (88%). No essencial, o crescimento explosivo da dívida no período posterior a 2009 deveu-se sobretudo, em Portugal e em outros Estados, europeus ou não, à crise (financeira) internacional, a impasses de decisão no plano europeu, à inação da União Europeia apanhada de surpresa com a dimensão e profundidade da crise e, the last but not the least, às desastrosas políticas de combate à crise.
Partindo de um trabalho estatístico de Paolo Moro et al. (de 2013), o autor mostra-nos que o pico da dívida pública portuguesa ocasionada pela I Guerra Mundial não voltou a ter idêntica expressão até à recente crise. Mostra-nos ainda que o saldo primário necessário para estabilizar a dívida pública é de tal ordem que ninguém pode ficar tranquilo para, em seguida, demonstrar que a via (quase única) seguida na zona euro e mais agudamente entre nós, para reduzir a dívida pública excessiva, a da austeridade pura e dura, é contrária às lições da História. Esta via rejeita qualquer tipo de reestruturação de dívida (com a exceção do caso da Grécia) com base na ideia (historicamente falsa, como se existisse uma “amnésia coletiva”) que as reestruturações seriam pensáveis em países subdesenvolvidos ou emergentes, mas não na Europa. As expectativas dos credores assim o exigiriam, mesmo que daí resultasse, como aliás – acrescento – o reconheceu o próprio Presidente da República, uma “forte austeridade prolongada nos próximos 20 anos” (p. 41). Daí adviria uma crescente instabilidade política, social e económica, uma compressão ou violação de direitos humanos fundamentais, um cerceamento do crescimento e do emprego, um aumento das desigualdades, muito dificilmente compatíveis com regimes e sociedades democráticas.
Outros caminhos devem ser trilhados, a exemplo do que ocorreu no passado e, desde logo, com a dívida alemã. A crise da dívida decorrente da I Guerra Mundial resolveu-se pelo incumprimento parcial das dívidas de guerra aos Estados Unidos; a crise da dívida contraída por causa da II Guerra Mundial, em especial até meados da década de cinquenta, foi resolvida por força da intervenção ou regulação pública (a impropriamente chamada “repressão financeira”) com vista a reduzir as taxas de juro nominais e a inflação; as crises nacionais ocorridas na Europa até à década de oitenta do século passado foram solucionadas por “um misto de crescimento, inflação moderada e rigor orçamental” (p. 45). Pela primeira vez, há uma crise financeira e económica que originou uma crise de “dívidas soberanas” cuja resolução é quase exclusivamente procurada mediante a imposição da austeridade a todo o custo.
A situação é tanto mais grave quanto nos próximos anos (de grande incerteza política internacional) nos aguarda – tudo o indica – uma época de baixo crescimento, de provável elevação, a médio prazo, das taxas de juro e de baixa inflação com ameaças sérias de deflação. E, acrescente-se, de muito prováveis novas crises financeiras. É este contexto que torna mais premente uma estratégia de reestruturação da dívida, não apenas a portuguesa, sem a qual o crescimento económico será uma miragem, pois está bloqueado pelos níveis anuais de encargos com o serviço e a amortização de uma dívida que continua a crescer e que, em Portugal, se aproxima perigosamente dos 140% do PIB. Os próprios técnicos do FMI alertam, em vários estudos, para estes perigos.
Entre nós, erros sistemáticos das previsões oficiais dos saldos orçamentais primários e das taxas de crescimento, previsões otimisticamente inflacionadas para cumprir as metas programadas, retiram credibilidade à “estratégia oficial” (uma estratégia, diria, que evoca uma conhecida expressão do anedotário português: “nós fingimos que cumprimos, vocês fingem que acreditam”). O irrealismo dos pressupostos da estratégia de redução do peso da dívida levada a cabo pelo Governo e pela troika é sublinhado pelos próprios técnicos do FMI que alertam para os seus riscos e fragilidades. Cravinho é claro quanto às suas conclusões: “a Comissão Europeia, o BCE e até a Alemanha sabem bem que, tarde ou cedo, terão de enfrentar o problema (da dívida portuguesa). Mas ainda julgam saber que quanto mais tarde melhor. Isto é, quanto mais tarde e mais prolongada for a dose de austeridade que pudermos sofrer sem real revolta, melhor será para a Europa germânica”.
É por tudo isto que é urgente uma mudança de políticas. O Manifesto dos 74 e os vários estudos contidos neste livro, entre outros, mostram que há alternativas nos planos europeu e nacional, que, não sendo fáceis (bem pelo contrário), são urgentes, caso se pretenda defender o euro e a permanência de Portugal na área do euro.
Da leitura deste ensaio e dos restantes documentos em anexo podemos retirar uma conclusão: o caminho até hoje seguido, misto de irrealismo, voluntarismo ideológico e subserviência, não é solução: conduz-nos rapidamente para uma integração num espaço de subdesenvolvimento sem horizontes que o novo muro de Berlim vem criando entre Norte e Sul, entre centro e periferia. Na atual situação e na ausência de uma reestruturação da dívida, cresce, a passos largos, a probabilidade de uma saída controlada ou de uma exclusão forçada, temporária ou não, de Portugal (e não só) do euro, com consequências imprevisíveis para a zona euro e para a própria União Europeia.
(1) Declaração de interesses: fui um dos subscritores do manifesto dos 74.